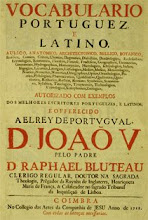Não é segredo para nenhum estudante de História, e possivelmente para nenhum cidadão pessoense minimamente atento, que as injunções políticas nomearam e renomearam essa terra diversas vezes e que, talvez, o problema de saída seja simplesmente de a mesma ter um nome. Nomear é um ato de tomar posse, de possuir e de estabelecer propriedade e, quem sabe, os Potiguara sequer tivessem um nome para o solo onde hoje fica a cidade, mas para o rio que lhe dá parte substantiva de sua vida e que define a transitoriedade da mesma. Ao espoliarem a terra dos seus habitantes primitivos, os luso-espanhois lhe deram nomes, que configuravam seu senso de propriedade, tais como Nossa Senhora das Neves (demarcando um território Católico), Filipeia (demarcando um território Monárquico somado à denominação Católica); mas tudo leva a crer que o nome indígena deve ter prevalecido pelo costume, apesar de também os holandeses terem tentado impor outro nome, qual seja, o de Frederica (aportuguesamento de Frederikstadt). Em sua obra de 1675, Nova Lusitânia ou História da Guerra Brasílica, relembrando os acontecimentos da guerra contra os holandeses, o militar português Francisco de Brito Freire (c.1625-1692) atentava para essa disputa dos nomes:
Por ficar entre as que já occupavaõ,na Ilha
de Tamaracá, & no Rio Grande, resolveraõ,que a Província,& Cidade da
Parahiba; cujo nome tomou do Rio que a banha, & lhe foi | sempre mais
próprio, sem nunca o perder de todo, pelo que lhe deraõ antes os Nossos, de
Felippea, depois os Olandeses, de Friderica: estes,de Friderico, Príncipe de
Oranje; & aquelles,de Felippe,Rey de Espanha.
Brito Freire notou a
questão dos nomes com argúcia.
Vejamos a análise arguta do militar seiscentista português sobre a situação de três dos nomes: os espanhóis tentaram impor Filipeia, os holandeses, por sua vez, Frederica, já Brito Freire, luso, afirma que o de Parahiba lhe era sempre o “mais próprio”, dado, talvez, ao hábito de assim seus habitantes e visitantes a nomearem. É de se supor que por estar escrevendo em 1675, quatro décadas após as guerras contra os holandeses e três após os portugueses terem rompido os laços dinásticos com a Espanha, certamente o nome indígena Parahiba fosse o mais conveniente diante da consolidação da ocupação da terra perante os seus antigos donos indígenas, que possivelmente já não consistissem mais numa efetiva ameaça de “varrer o europeu invasor de sua terra”. Se Filipeia pode ter sido útil para demarcar a posse da terra recém conquistada a partir de 1585, noventa anos depois, Parahiba talvez fosse mesmo a opção mais conveniente para dialogar com o passado, deixando os nomes espanhol e holandês como referências para os livros de História, entre eles o do próprio Brito Freire. Nossa Senhora das Neves parece não ter sido considerada pelo escritor, eventualmente porque de sua parte também não houvesse tanto interesse de um militar ligado ao Estado Monárquico privilegiar essa pertença Católica. E enfeixando tudo isso, provavelmente acima de tudo, o hábito daqueles que não escreviam tenha prevalecido e Parahiba tenha se consolidado nos falares do povo – Brito Freire nos sugere que desde os primeiros tempos – para além do que ficou escrito pelos poucos que escreviam.
Em 1930, uma mais recente e controversa viragem trouxe outro nome para a mesma cidade – que parece ter o intrigante hábito de manter uma média de um nome por século (com o clímax nos primeiros 60 anos), o que garante emprego para professores de História explicarem esses imbróglios de vez em quando – a partir de um crime de motivações pessoais com rebates políticos e, nesses últimos 91 anos, a cidade mantém o nome do finado Presidente do Estado da Paraíba. Como estamos perto de mais um século de nomeação, o que o futuro pode nos reservar? Ficaremos por aí ou inventaremos novos nomes?
O que parece ser presumível em termos de hoje – muito embora as presunções costumem a ser desmentidas na primeira ocasião e a história do futuro não pare de nos surpreender –, é que se um plebiscito fosse realizado para a opção dos cidadãos em relação ao nome efetivo da cidade, possivelmente o de João Pessoa acabasse por prevalecer pela força do hábito, mas não necessariamente pelo apego ao político. Talvez a mesma força do hábito que fez Parahiba prosperar no século XVII, no XXI jogasse contra essa nomeação fluvial-indígena.
Mas não é sobre isso exatamente que queremos falar, apesar desse intróito ter tudo a ver com o que se seguirá. Queremos falar das recentes e agudas tensões dos diálogos com o passado e que têm sacudido diversos países do mundo, como atestam os noticiários sobre as derrubadas de monumentos que se têm acometido aqui e alhures. Não se trata de assunto despido do fogo da controvérsia e não consideramos que deva ser discutido de forma linear ou panfletária, mas que exija certa reflexão.
Voltemos às décadas nas quais a cidade trocou de nome cerca de três vezes – Filipeia, Frederica, Paraíba – e a diversos rebates que se colocam atualmente diante da toponímia de um lugar bem no coração cívico de nossa cidade; falamos aqui do popular Ponto de Cem Réis, oficialmente denominado Praça Vidal de Negreiros. Antes, porém, de recuar ao século XVII, vamos fazer um sobrevôo pelo XVIII.
Comecemos por um pouco do que sabemos acerca do lugar.
Até o século XVIII esse lugar, situado na então extremidade sul da Rua Direita (atual Duque de Caxias) era um pequeno declive, que caminhando mais um pouco a sul, voltava a ter leve subida e seguia para o sul da Capitania. Qualquer um que hoje transite a pé o pequeno trecho entre a Igreja da Misericórdia e o Palácio da Redenção sentirá essa suave descida e a posterior subida. De tal maneira, considerando sua topografia, o local era chamado de “baixa” e durante certo tempo se denominava Rua da Baixa. Em algum momento do século XVIII a população de ascendência africana da cidade, ergueu na “baixa” a Igreja de sua Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que demarcou o lugar por mais de dois séculos até à sua demolição no início do século XX, assim como também se deu em relação a outro templo próximo – de Nossa Senhora das Mercês dos Homens Pardos, na atual Praça 1817 – que também foi demolido na década de 1930, de tal forma que foram apagadas marcas importantes da presença afro-brasileira na nossa cidade.
Por ter se constituído num ponto central da circulação dos bondes na cidade, a antiga “baixa” ou Largo do Rosário acabou ganhando a denominação popular de Ponto de Cem Réis, que até hoje prevalece no linguajar habitual, apesar de sua denominação oficial em homenagem ao paraibano André Vidal de Negreiros, considerado um “herói da nacionalidade” brasileira por gente como Francisco Adolfo de Varnhagen, um dos pais de nossa historiografia. Também um seu contemporâneo, o célebre Padre Antônio Vieira, o elogiou ao Rei, muito embora tenha sofrido certo desencanto depois de algum tempo.
Desse modo, temos de considerar algumas presenças e outras ausências no cenário atual: além de denominar a Praça, Vidal conta com um monumento erguido em sua homenagem naquele território. Outrossim, ironicamente e de frente a Vidal, encontramos risonhamente sentado num banco o jornalista e compositor Livardo Alves, que nos remete ao Ponto de Cem Réis, à jocosidade de seu homenageado como cronista de nossa vida cotidiana e à centralidade que lugar manteve na vida da cidade durante décadas. Por outro lado, as referências à “pequena África” (aqui inventamos o nome, mas não por puro palpite) da velha Paraíba foram devidamente apagadas nas “higienizações urbanas” das primeiras décadas do século XX.
Não iremos questionar de antemão a figura de Vidal, muito embora o mesmo, pelo seu destacado papel na expulsão dos holandeses, tenha granjeado honrarias de benesses em sua época, sendo agraciado pela monarquia portuguesa com a governança do Maranhão (1655-1656), de Pernambuco (1657-1661) e Angola (1661-1666). Em Angola, em 1665, Vidal comandou as forças lusas contra o Rei do Congo, D. Antônio I (reconhecido como um Rei Católico e até então aliado dos portugueses), que teve o seu ponto culminante na Batalha de Ambuíla, na qual as tropas do monarca congolês foram desbaratadas e aquela monarquia foi submetida à força das armas portuguesas. É concorde entre historiadores de diversas correntes que a destruição da monarquia do Congo fortaleceu as redes de tráfico escravo naquele contexto e, portanto, Vidal teve um papel central em sua época na consolidação desse terrível negócio.
Que fazer, então?
A história apagada
de nossa pequena África. Até o momento, a única imagem remanescente encontrada
da antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
As opções são muitas e externamos aqui o que consideramos mais conseqüente.
Não nos parece que a pura remoção do monumento efetivamente leve a uma reflexão sobre o lugar de construção de uma plena cidadania para a população afrodescendente em nossa cidade, mas consideramos mais procedente e educativo que se construa no lado oposto da dita Praça um monumento de vulto – mediante consulta pública e concurso – que destaque a presença da cultura negra em nossa terra. Isso também poderia ser acompanhado da eventual troca do nome do logradouro. Dessa maneira, Vidal e o monumento da “Pequena África paraibana” estabeleceriam esse “tenso diálogo com os tempos” como toda boa história crítica tão bem sabe fazer. Seria um processo educativo em plena praça pública. No outro canto, observando do final do século XX, Livardo Alves contemplaria o diálogo entre os séculos XVII e XVIII, e nós, em pleno XXI, aprenderíamos um pouco mais sobre a história da nossa cidade, de tal forma que possamos nos tornar cidadãos mais plenos.